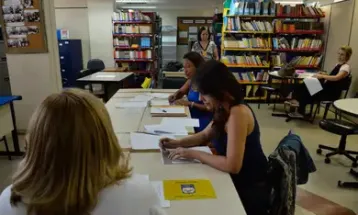A fraude à execução e o risco de se presumir má-fé do executado
Trata-se de um mecanismo voltado a impedir que o devedor, deliberadamente, se desfaça de seus bens para frustrar o direito do credo

Por Daniela Vlavianos*
A fraude à execução ocupa posição relevante no ordenamento jurídico como instrumento de tutela da efetividade da jurisdição. Trata-se de um mecanismo voltado a impedir que o devedor, deliberadamente, se desfaça de seus bens para frustrar o direito do credor reconhecido judicialmente. No entanto, o que se tem observado no foro cotidiano é um crescente uso indiscriminado desse instituto, transformando-o, muitas vezes, em um atalho judicial para alcançar o patrimônio do executado sem a observância das garantias constitucionais que regem o processo. A alienação de bens em contexto de execução passou a ser vista, com frequência, como indicativo automático de má-fé, invertendo a lógica do devido processo legal, do contraditório e da boa-fé objetiva.
A legislação brasileira, em especial o artigo 792 do Código de Processo Civil, disciplina com clareza os pressupostos legais para que se configure a fraude à execução. É necessário que, ao tempo da alienação ou oneração do bem, tramite contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Mesmo assim, o simples fato de haver ação em curso não autoriza, por si só, o reconhecimento da fraude, sendo imprescindível que o terceiro adquirente tenha ciência da demanda ou que esta esteja registrada na matrícula do bem. Essa compreensão foi consolidada na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe expressamente: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
A intenção da súmula é precisamente impedir que se generalize a invalidação de negócios jurídicos lícitos com base apenas na existência de processo em trâmite, sem que haja qualquer indício concreto de dolo ou conluio. A presunção genérica de má-fé contraria o modelo processual constitucional, que exige prova e contraditório efetivo antes da imposição de qualquer restrição de direitos. No entanto, o que se vê em diversas decisões judiciais é a distorção desse entendimento sumulado, convertendo em regra o que deveria ser a exceção. A alienação de bens antes da citação válida ou sem qualquer registro de constrição no bem tem sido tratada como conduta presumivelmente dolosa, ainda que ausente qualquer elemento indicativo de fraude real.
Essa vulgarização do instituto da fraude à execução compromete não apenas os direitos do devedor, mas também a segurança jurídica dos terceiros adquirentes. O sistema de registros públicos, que deveria assegurar a boa-fé objetiva e a estabilidade das transações patrimoniais, torna-se ineficaz diante de decisões que desconstroem negócios lícitos com base em presunções artificiais. Além disso, a prática judicial recorrente de inverter o ônus da prova — exigindo que o alienante e o adquirente demonstrem ausência de má-fé — afronta frontalmente o artigo 373 do Código de Processo Civil e converte a exceção em paradigma processual.
Consequências nefastas
É fundamental lembrar que o ordenamento não proíbe o devedor de dispor de seus bens antes da citação válida. A restrição ao direito de propriedade sem observância do contraditório, especialmente em hipóteses em que não há penhora registrada ou prova de ciência da ação, representa claro desvio do devido processo legal. Como bem afirmou o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.837.680/SP, relator ministro Marco Buzzi, julgado em 24 de novembro de 2020, “a mera existência de execução não autoriza, por si só, o reconhecimento da fraude à execução, sendo necessária a comprovação de que o terceiro adquirente tinha ciência inequívoca da demanda ou da insolvência do devedor”.
A aplicação mecânica do instituto tem efeitos nefastos: fragiliza o direito fundamental de propriedade do devedor, desestabiliza o sistema registral e compromete a confiança legítima dos adquirentes de boa-fé. O processo executivo, embora vocacionado à efetividade, não pode se sobrepor às garantias constitucionais, convertendo-se em instrumento de opressão patrimonial. Quando o Judiciário presume fraude sem indícios concretos, impõe ao executado e ao terceiro a obrigação de provar sua inocência — invertendo os princípios basilares da processualística moderna.
É imperioso que se resgate a integridade da interpretação da Súmula 375 do STJ e se reafirme que a fraude à execução exige prova efetiva, não bastando suposições fundadas na mera existência de demanda judicial. O equilíbrio entre o direito do credor à satisfação do crédito e os direitos fundamentais do executado exige mais do que automatismos. Requer um processo justo, técnico e respeitoso às garantias constitucionais que, por vezes, vêm sendo relativizadas por uma cultura processual orientada pela lógica da punição antecipada.
A defesa do executado, quando exercida com lealdade e dentro dos marcos legais, não pode ser confundida com resistência ilegítima à jurisdição. A alienação patrimonial em si não é sinônimo de fraude, e qualquer presunção em sentido contrário representa não apenas uma injustiça, mas um risco sistêmico à legitimidade do próprio processo executivo.
*Daniela Vlavianos é sócia do Poli Advogados & Associados